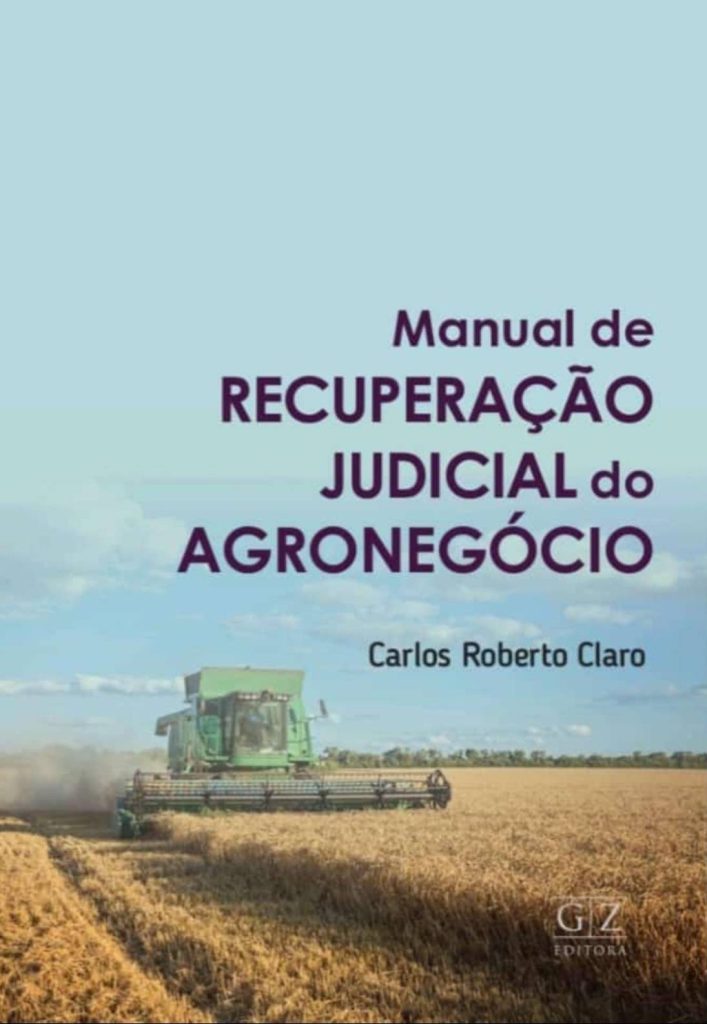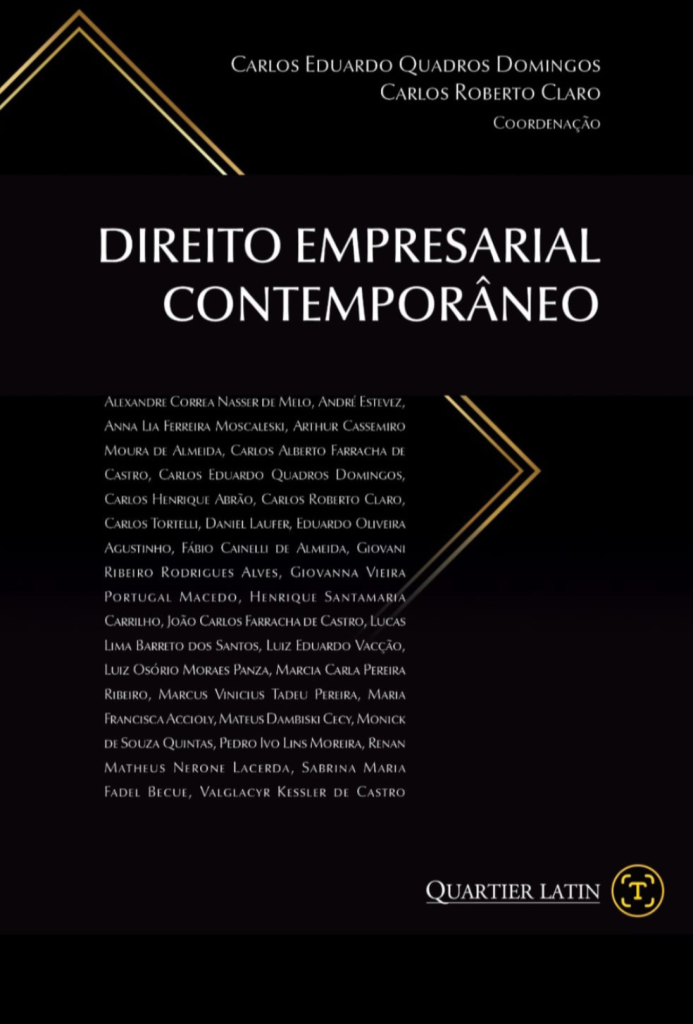Recuperação Judicial e Custo Financeiro
O presente texto apresenta alguns alinhamentos sobre o processo de recuperação judicial e o custo financeiro à pessoa jurídica em crise econômico-financeira que a ele se submete.
A Lei 11.101/05 – que em junho/2025 completa vinte anos de vigência no ordenamento jurídico brasileiro -, regula a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária [pessoa jurídica].
Ao primeiro sinal de crise [patrimonial, financeira ou econômica], os titulares do agente econômico hão de tomar todas as medidas necessárias a fim de manter todos os seus compromissos em dia ou se retirar do mercado.
Havendo crise econômico-financeira, cabe-lhes averiguar medidas jurídico-econômicas para, se for o caso, buscar solução conjunta, global, perante aos credores [inclusive aqueles que se não submetem ao processo].
Tendo em vista as modalidades recuperatórias previstas na Lei 11.101/05, sem descuidar da hipótese de que o próprio texto legal possibilita outras formas de composição, a teor do art. 167, os titulares da entidade se devem ater a alguns detalhes [inclusive financeiros] importantes.
Devem sempre visar a melhor solução para a crise circunstancial e mantença da entidade operando no mercado.
Aspectos Gerais Sobre o Tratamento da Crise Empresarial A Partir de 2005
A Lei 11.101 de 2005 alterou significativamente a forma de tratar a crise econômico-financeira momentânea da empresa [entidade econômica organizada].
Ao tempo do Decreto-Lei 7.661/45, é de sabença, a concordata preventiva nem sempre colaborava para a superação da crise momentânea vivenciada pelo agente econômico e sua mantença no mercado.
Não foram poucas as pequenas, médias e grandes organizações que faliram, inclusive de amplitude nacional.
Quando da vigência do decreto-lei (que vigorou por sessenta anos) as dívidas poderiam ser pagas em até vinte e quatro meses – pelo menos dois quintos no primeiro ano – não havendo outras possibilidades de composição com os credores, qual prevê o art. 50 da Lei 11.1-01/05, que apresenta várias alternativas de soerguimento.
No tocante ao instituto da falência, tentar composição com credores já era o bastante para retirar o devedor do mercado (Dec.-Lei 7.661/45, art. 2º, inc. III), porque considerado ato de falência e demonstração de crise patrimonial.

Em outros termos, se o devedor buscasse a (re)negociação de dívidas, esse agir era considerado um ato de falência.
Caberia ao autor da ação, conforme art. 12 do referido diploma legal, especificar os fatos que caracterizam o estado deficitário do devedor, juntando as provas.
Dito de outro modo, a falência do devedor poderia ser judicialmente aberta simplesmente porque tentou ele se compor com os credores.
Ao contrário do microssistema anterior, a atual lei incentiva a composição entre devedor e credores, visando a superação da crise e mantença da fonte produtora no mercado competitivo.
A solução buscada entre as partes – na arena da recuperação judicial – deve ser a integrativa e não a distributiva, a bem de ver.
É importante o pagamento das dívidas da empresa e sua mantença no mercado, evitando-se, quanto possível, a abertura judicial da falência.
O texto legal de 2005 tem como objetivo primeiramente a superação da momentânea crise e, caso os mecanismos jurídico-econômicos não produzam resultado satisfatório, a abertura judicial da falência é a medida mais correta.
É medida de rigor, sob pena de se criar efeito multiplicador da crise.
A base legislativa para a edição da Lei 11.101/05 é o Bankruptcy Code, Chapter 11, do sistema estadunidense, e determinados aspectos previstos na lei francesa.
O norte da lei de 2005 é a regra contida no art. 47.
Em caso de crise patrimonial, onde há mais dívidas do que patrimônio, não há falar em recuperação da empresa, e sim em falência.
É oportuno destacar que em determinadas situações concretas a melhor solução é a abertura judicial da falência, retirando-se o agente econômico do mercado, visando a preservação deste e do próprio crédito público.
Ainda, em caso de insolvência – ou seja, ausência de patrimônio para fazer frente às dívidas e consequente impossibilidade de cumprir as obrigações assumidas -, o melhor remédio é o pedido de autofalência, por parte do devedor[1].
Agindo de tal forma, os titulares da empresa deficitária demonstram sua inequívoca boa-fé e atuam, de forma diligente para que seja ela retirada o quanto antes do mercado.
“O estado de desordem geral do patrimônio do devedor” [doutrina do italiano jurista Carlo D’Avack] simplesmente é alterado de forma substancia em decorrência da abertura judicial da falência, formando-se a massa falida, o juízo universal, surtindo vários outros efeitos.
Com a abertura judicial da falência do devedor, fica afastado o princípio prior in tempore, potior in jure, prevalecendo o princípio par conditio ominium creditorum,[2] princípios esses que serão tratados com mais profundidade em outro ensaio a ser publicado neste espaço.
Custo Financeiro da Recuperação Judicial
Para que o devedor em crise econômico-financeira possa ingressar com a recuperação judicial, caberá ao devedor observar o constante no art. 51 da Lei 11.101/05. Tem-se como relevante uma série de documentos, tais como as demonstrações contábeis dos três últimos exercícios sociais e as especialmente levantadas para fins de recuperação judicial; a projeção do fluxo de caixa, dentre outros.
Mas sobreleva o fato de que o plano de recuperação é, sem sombra de dúvida, o documento mais importante do processo de reorganização.
É, pois, o verdadeiro fio condutor, o formal documento obrigatório, que poderá ensejar o amplo soerguimento do ente em crise.
Deve ser elaborado por profissional técnico especializado, que fará levantamento contábil e econômico, esquadrinhará a forma de soerguimento e estabelecerá de forma objetiva os meios para pagamento dos credores.
Ainda, deve demonstrar a viabilidade econômica da entidade recuperanda.
Trata-se de tarefa de fôlego, para profissional especializado.
O agente econômico deverá ter equipe multidisciplinar, ou seja, advogados, contadores, gerente financeiro e assim por diante.
Nessa esteira, os custos para elaboração dos documentos indispensáveis, que devem instruir a petição inicial da ação de recuperação (dentre eles os previstos no art. 51), são suportados pelo devedor.
Demais, caso o magistrado determine a constatação prévia (art. 51-A) a remuneração do perito também deverá ser pega por quem ajuíza a ação (art. 51-A, §1º).
Não se descuide da Assembleia-Geral de Credores, órgão do processo.
As despesas com a convocação e realização do ato são por conta do devedor (art. 36, §3º).
No tocante ao Comitê de Credores, nada recebem.
As despesas para a prática de vários atos correm por conta da empresa em recuperação (art. 29).
As despesas [sentido amplo do vocábulo] do processo também são de responsabilidade da recuperanda.
Caso o Comitê de Credores resolva, por exemplo, se reunir uma vez por semana a fim de deliberar a respeito do prosseguimento, ou mesmo resolva fiscalizar in loco determinada filial da recuperanda, e instalada em local longínquo, cujo deslocamento requeira deslocamento, o devedor também será responsável pelas despesas
A remuneração do administrador judicial é paga pela entidade recuperanda (cf. art. 24).
Cabe esclarecer que, tendo em vista os novos ditames legais, documentos importantes deverão ser direcionados ao processo de reestruturação.
Imprescindível elaboração do plano de reorganização, o qual competirá a profissional qualificado para esse mister, cabendo à empresa recuperanda o pagamento das despesas e remuneração do profissional contratado.
Portanto, o processo de recuperação judicial poderá ser dispendioso ao devedor em crise, caso as possibilidades aqui aventadas se concretizem, cabendo ao devedor arcar com todas as despesas necessárias à prática de alguns atos.
Não menos certo que nem todos os agentes econômicos em crise terão condições financeiras de arcar com os variados custos do procedimento na esfera exclusivamente judicial.
Na esteira de tudo o que foi aqui exposto, é também de mediana sabença que a Lei 11.101/05, além de recolher dispositivos constantes do Dec.-Lei 7.661/45, foi inspirada na legislação norte-americana e francesa, que, evidentemente, afloram em conjunturas sócio-econômicas, totalmente diversas da local.
Caberá ao tempo, e só a ele, dizer se houve [ou não] avanço legislativo no Brasil.
[1] Acentua o jurista Carlos D’Avack: Concludendo quindi, è assolutamente necessario per la dichiarazione del falimento che l’azienda sai in stato di gelerale dissesto e che il debitore sai caduto in uma serie di inadempienza non in quanto queste costituiscono il solo pressuposto che legitttima l’applicazione dele norme fallimentari, ma in quanto esse reppresentano uno di quegli accertamenti necessari preliminari (quali ad es. la qualità di commerciante; che il mancato pagamento del debiti del comerciante ritiratosi o defunto sai avvenuto durante il suo commercio etc.), che il giudice deve compiere prima ancora di poter acclarare se il patrimonio del debitore stesso sai in stato de insolvenza. La natura giuridica del falimento. Casa Editrice Dott. A. Milani. Padova 1940-XVIII, p. 47.
[2] Ensina D’Avack em sua primorosa obra: D’altro lato poi, a mio modesto avviso, sembra che si siano straordinariamente esagerate l’importanza e le conseguenze che la ‘par condicio creditorum’, ottenuta attraverso il falimento, può avere sull’economia generale di un Stato, e che se ne siano veramente supervalutati gli effetti e le ripercussioni allorchè si è definita com e la stessa ‘legge del credito’. Un primo argomento contro questa sua presunta importanza economica ci è offerto proprio dalle norme che regolano l’esecuzione singolare; se in questa inverso il legislatore há voluto che imperasse il principio ‘prior in tempore, potior in jure’, non si compreende perchè avrebbe portanto dele così grandi difese a tutela dei ceditori nel caso del dissesto di um comerciante specie se si pensi che, sopratutto dal punto di vista quantitativo, le esecuzioni individuali hanno uma importanza econômica per tutela del credito e dell’economia generale bem maggiore di quanto non ne abbiano le esecuzioni fallimentari, e certamente molto più grande è la massa dei creditori soggetti a quel principio che non la massa di quelli che il legislatore há voluto amorosamente tutelare com le norme fallimentari. Op. cit., pp. 18-19. Destaques na obra.